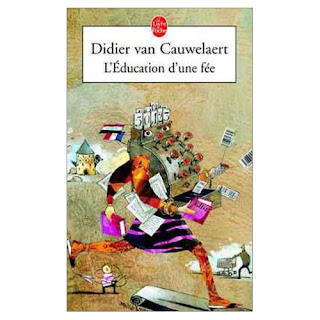O EXORCIZAR DA CULPA
Há realidades e realidades, costuma
dizer-se. E, quando assim nos referimos aos contextos em que nos situamos,
parece claro que estamos a referir-nos às facilidades que temos ou não em circular
nessas realidades. Isto é, à maleabilidade que permitem, aos índices mais ou
menos acentuados de constrangimento que impõem.
Se entendermos a criatividade como um
modo vertiginoso de circulação social, é evidente que realidades, em que haja um
índice maior de constrangimento, motivam um atrito maior, uma ligação mais
intensa a esse “real”.
Se entendermos a criatividade como um
modo omniforme e omnisciente de estar social, é também evidente que realidades,
em que haja um índice maior de constrangimento, motivam um desejo mais intenso de
ascensão sintética e, por consequência, uma capacidade maior de alegoria.
Tudo isto já foi dito, por esta ou por
outra forma, e só enunciamos estas questões para reforçarmos a ideia de que, se
as opções criativas são, por natureza, pouco coagentes, há, no entanto,
realidades que impõem tais índices de constrangimento que obrigam que as
necessidades de empenhamento ético pesem francamente no acto criador. Alguns de
nós conhecem bem tais situações: quantas vezes, olhando para os nossos velhos
escritos, mesmos os mais íntimos, sentimos que foi essa realidade forte, como
tempo concretizado, que apenas moveu a caneta sobre o papel...
Penso, por isso, que não vale a pena
nomear essas realidades. Indico somente dois tipos, por referência directa ao
que se segue: as realidades coloniais e as que se estruturam sobre o apartheid
e sobre um conjunto de relações sociais acicatadamente rácicas, como é o caso,
por exemplo, da África do Sul.
Sendo a realidade sul-africana tão constringente,
natural se torna, portanto, que os seus narradores, brancos ou negros, tenham
optado, com preferencial tendência, por “enformá-la” através de uma série de
propostas de ficção realista, isto é, sustentada por um “corpus” ideológico de raíz
mais ou menos empírica, já com largas tradições na ficção de expressão inglesa.
Mas se a situação específica da
realidade sul-africana cria um jogo de relações sociais, e, por consequência,
romanescas, com uma localização acentuada, isso não obsta, pelo contrário, que
o analista de ficção não tenha possibilidade de detectar ramificações bem
criativas na genealogia das situações e das personagens que o trabalho
narrativo tem vindo a produzir.
É o caso concreto da tríade de
ficcionistas brancos sul-africanos mais divulgada na Europa, e que inclui, além
de André Brink e J. M. Coetzee, a escritora que motiva este artigo, Nadine
Gordimer, de quem apareceu o ano passado, nos escaparates das livrarias
portuguesas, a tradução de uma sua colectânea de contos, Numa segunda-feira, de certeza,
com chancela das Edições 70.
Nadine Gordimer (n. 1923) publicou, até
à data, oito romances e seis livros de contos (destaco, entre estes, Burger’s
Daughter, Conservationist, Soldier’s Embrance e World
of Strangers), e é hoje uma das escritoras com maior prestígio no mundo
literário anglófono. Torna-se claro, pelo conjunto da sua obra, que esta escritora
tem um empenhamento político e social (digamos até, de uma forma genérica,
cultural) bem definido: lutar por uma sociedade na África do Sul que se
organize segundo um sistema socio-político de sufrágio universal e que, em
consequência, rejeite todas as formas de apartheid ou de descriminação face à Lei
com base na origem rácica.
Semelhante empenhamento é bem nítido na
obra agora em causa. Trata-se de uma selecção de contos, feita pela própria
autora, de cinco colectâneas publicadas durante os últimos vinte e cinco anos,
e que, segundo os seus objectivos, testemunham as variantes comportamentais de
diversos grupos sociais brancos e não-brancos em diferentes níveis de prática
quotidiana.
Uma rápida análise dos contos realça,
de imediato, que a autora pretende desmontar todo um quadro de situações sociais,
assumindo uma atitude de objectividade e distanciação que, estilisticamente, é
procurada através de um conjunto de pequenas anotações de observação (algumas
vezes bem originais e perspicazes) que pretendem dar uma consistência ambiencial
às situações e caracterizar, de forma sintética, as personagens. Penso que este
tipo de realismo, que se pode chamar, de modo irónico, pontilhístico, tem muito
a ver com certas características técnicas da ficção americana (refiro aqui, a título
de exemplo, os casos de Sherwood Anderson, John Updike, Mary McCarthy e Joyce
Carol Oates, entre muitos outros possíveis) e encontra-se longe de uma ficção
que se desenvolve assente em sinais que, de uma forma nítida, têm como
referência um qualquer sistema doutrinário.
Por outro lado, a exigência de
testemunho, querida pela autora, faz com que estes contos sejam fortemente marcados
de historicidade. É, por isso, que todos revelam estar situados em precisos
contextos históricos, salvo raros casos em que essa historicidade, existindo à
mesma, parece estar mais difusa.
De acordo com essa historicidade, pode-se
mesmo tentar criar uma tipologia: definimos assim seis grupos de contos, em
quatro dos quais a historicidade é bem acentuada, e nos restantes mais diluída.
O primeiro grupo de contos inclui os
três iniciais (“Não há outro sitio onde nos possamos encontrar?”, “Ai de mim!” e
“Seis palmos de terra”) e situa-se num contexto histórico em que as relações rácicas
assentam numa concepção de ”menoridade” do negro, determinando assim que sejam,
no melhor dos casos, por parte da minoria branca, vincadamente paternalistas.
Esse paternalismo não consegue, no entanto, libertá-la de uma culpabilização, a
maior parte das vezes, transparente e primária, consequente do seu estatuto
social de privilégio.
O carácter imediato dessa culpabilização
é, em particular, notório no primeiro conto: a protagonista “branca” sente - após
ter sofrido uma acção violenta de roubo por parte de um “negro” pobre - tal mal-estar
que desiste de apelar às “autoridades” ou de actuar seja de que forma for
contra ele; e o drama da própria personagem, como o título indica, é o de não conhecer
um lugar onde se possa instituir, entre as figuras em presença, uma forma de
comunicação que não seja tão violenta, sendo esse “desconhecimento” o que
motiva o seu mal-estar.
Nos dois contos seguintes, o drama da
segregação racial é transferido para o interior das famílias brancas que, em
consequência de darem trabalho a membros das comunidades negras, se encontram
numa situação de mediação entre a sociedade em geral e as ambições de afirmação
social das referidas comunidades (o caso do conto “Ai de mim!”) ou entre o
aparelho burocrático do Estado sul-africano e os mais básicos (e milenares) sentimentos
familiares negros, como é o ligado à prática do culto dos mortos (o caso do último
conto referido). Qualquer deles tem, por fim, um “pathos” comum: o
comportamento de impotência das famílias brancas face a relações e estatutos
sociais que são impossíveis de remediar pela acção individual.
O segundo conjunto de contos inclui os
dois seguintes (“Que nova era seria aquela?” e “O cheiro da morte e das flores”)
e historicamente situa o período em que os grupos sociais brancos e negros mais
esclarecidos acalentam o sonho de conseguirem construir, por meios pacifistas,
uma sociedade de igualitarismo plurirracial.
É nesse período que vêm ao de cima os
conflitos de integração, já que a aplicação de estatutos formais de igualdade
social, mesmo nos pequenos grupos “esclarecidos”, motiva situações que ou são tão
violentas, em termos psicológicos, como as do período anterior, ou então, na
medida em que emanam dum voluntarismo cultural e político, são pouco
vivenciais, descambando em comportamentos bem-intencionados, mas estereotipados
e convencionais.
Grande parte do fiasco de tal projecto
com pretensões igualitaristas está em tender a escamotear as diferenças de origem
social e cultural, o que não só é impossível a curto prazo, como comprova que
tinha, no fundo, uma liderança “branca”.
Qualquer dos dois contos indicados
relata situações de “convívio” plurirracial: o primeiro, num ambiente não-branco,
pequeno-burguês e operário; o segundo, num contexto branco de classe média e
intelectual.
No primeiro, a tentativa de “convívio”
é, por sistema, confrontada com essa “igualdade” forçada: o mestiço Jack Alexander,
seu protagonista, apenas pode receber com uma extrema ironia as afirmações da
militante progressista branca que o visita de que é sua “igual”, só porque
realiza entre os grupos sociais não-brancos uma espécie de turismo de assistência
social. Além disso, torna-se bem evidente em todo o conto que semelhante
voluntarismo igualitarista tem áreas de entendimento impossível, como é o caso
das sexual e amorosa, já que os diferentes percursos culturais formam imagens
sexuais distintas, não focalizáveis pelos respectivos desejos.
No segundo, o que se realça, após o
deslumbramento que uma adolescente branca tem, ao dançar com um negro, de que ”é
a mesma coisa” do que dançar com um branco, é o carácter estritamente formal da
acção anti-apartheid em que ela se envolve - a entrada numa “location” (zona de
habitação negra, demarcada, muitas vezes por arame farpado, onde era interdita
a entrada não oficializada de elementos brancos) por parte dum grupo branco e a
sua consequente prisão - motivada por esse deslumbramento. Esta acção realiza-se
perante o olhar de indiferença ou de perplexidade - e é este último olhar que deixa
um mínimo de esperança e de sentido para os intervenientes - dos miseráveis
habitantes negros da “location”, o que revela assim o seu carácter desadequado,
e até “mundano”, e, por consequência, impotente.
Associado a este conjunto está o conto
“Casa aberta”, visto que constrói uma situação que expõe os reflexos negativos
desse mesmo projecto igualitarista. Trata-se de novo de um “convívio” plurirracial,
mas agora de elementos que, em consequência do seu papel nas acções pacifistas,
foram, passados alguns anos, “compensados” socialmente, o que os levou a resignarem-se,
a traírem (?), a formalizarem-se num “papel” vazio de qualquer prática social e
de qualquer ligação à maioria não-branca. A ironia, que os diálogos lançam
sobre a vida das próprias personagens, escamoteando a sua resignação e culpabilização,
realça, no entanto, a problemática que está no cerne do próprio conto: é impossível
outro “fim” para quem lutou pela integração apenas formal numa sociedade que,
no fundo, limitando essa integração, lhe recusa um estatuto de cidadania
completa.
O terceiro conjunto inclui os contos “Uma
coisa temporária” e “Um rubizinho de vidro”. No fundamental, corresponde ao período
em que se instituem as formas de resistência, ainda legal, contra a dominação
minoritária branca, organizadas, em particular, pelo African National Congress.
“Uma coisa temporária” narra, em
confronto, os conflitos que se processam dentro de duas famílias cuja “história”
se cruza: uma, branca, pertencente à alta burguesia e com uma atitude liberal e
proteccionista; outra, negra, proletária, em que o homem é militante conhecido
do A.N.C. Qualquer das duas está em situação de desagregação em consequência de
lutarem, pelas vias legais, pelos seus ideais: a primeira, como resultado da
incapacidade da atitude liberal em integrar as formas de resistência legal
(aqui simbolizada pelo uso, por parte do militante negro, do emblema do A.N.C.,
nas horas de trabalho, dentro da empresa dirigida pelo “chefe” desta família);
a segunda, como resultado das prisões sistemáticas, das perseguições
ininterruptas, das constantes percas de emprego, que levam ao desespero a
mulher do militante.
“Um rubizinho de vidro” é, curiosamente,
o primeiro conto todo ele passado entre elementos não-brancos. Tendo por pano
de fundo a repressão policial sobre as formas organizadas de resistência e a
sua entrada gradual na clandestinidade, é, para além disso, uma análise dos níveis
de consciencialização política dos indivíduos socialmente oprimidos, e de como,
numa primeira fase, os elementos caracteriais e afectivos têm um papel
determinante na motivação para esse empenhamento político.
O último conjunto de contos historicizado
inclui aquele que dá título à colectânea e que caracteriza o período da resistência
armada. Passado na comunidade negra, descreve, através de um narrador negro, a
descoberta das tradições culturais, a preparação e a concretização de uma acção
armada, e o consequente exílio, com todo o seu rol de sofrimento e desagregação.
Há, no entanto, em todo o conto, uma certeza profunda: a de que só através da
luta armada, no contexto sul-africano, se pode justificar um lugar social,
mesmo que para atingi-lo se tenha que tombar, como acontece a uma das
personagens, na destruição psíquica e na loucura, demonstrando que a verdadeira
“deslocação” social produtora, em última instância, da própria loucura está na
Origem secular de um processo histórico que só se pode “lavar”, como um “pecado
original”, pela intervenção na luta armada.
No final da análise dos conjuntos de
contos com uma historicidade mais acentuada, creio que estamos em condições de
afirmar que estes organizam uma determinada imagem da sociedade sul-africana: a
de que existe nas relações sociais rácicas uma culpabilização de tal forma
marcante que ela torna-se uma espécie de matriz da própria sociedade, já que
todos os seus elementos, incluindo os de maior dinâmica social, são atingidos
por ela.
As variantes comportamentais descritas
por estes contos apenas são “exigências” das conjunturas históricas, visto que
não se libertam dessa culpabilização: não passam de opções de atitude individual,
adaptadas à crescente complexificação das relações rácicas, continuando a ser,
por isso mesmo, estéreis.
Essa culpabilização, produtora, por si
só, de esterilização e impotência social, isto é, fazendo com que as variantes
comportamentais dos diferentes grupos sejam apenas um “gesticular histérico”
sem reflexo na dinâmica social, tem, no entanto, um “remédio”: a integração nas
formas de resistência organizada, liderada pela comunidade negra, contra a opressão
da minoria branca.
Não é por acaso, por isso, que a
partir do terceiro grupo acima referido comecem a aparecer contos passados apenas
em comunidades não brancas. É que o fenómeno de culpabilização, a partir do aparecimento
das formas de resistência organizada, liderada pela comunidade negra, passa a
ter características com qualidades bem distintas: de condicionante, em
particular, da comunidade branca, em consequência do seu estatuto de privilégio
numa sociedade assente no apartheid, passa a ser integrante a todos os elementos
sociais, brancos ou não, conforme se posicionam em relação às referidas formas
de resistência organizada.
A análise do fenómeno de culpabilização
social, que até aí era feita sobre o vértice da relação branco/não-branco, desloca-se
agora para o interior da comunidade negra, visto que é ai, na actual conjuntura
histórica, que ele tem mais gravidade.
Note-se, no entanto, que ainda se
mantem no foro individual, para além daquela, outra forma de resolver
catarticamente esta culpabilização: é o seu exorcismo através do testemunho
escrito. É, por isso, que testemunhar esse processo de culpabilização social,
tentando ser o mais objectivo possível, passa a ser, no fundo, uma das balizas
da obra de Nadine Gordimer.
O exorcismo, que a própria realidade
exige, torna-se, assim, uma das formas como a autora intervém, condicionando a
própria escrita. E esta necessidade de exorcizar a culpabilização pela escrita define,
de certo modo, o lugar onde esta mesma escrita se situa, isto é, a origem
cultural que focaliza esta sociedade, e que motiva a mediação (lente?) branca que,
no fundo, constitui esta obra. Institui-se assim a escrita como uma forma de
“desculpa”, ou seja, de tentativa de eliminação da culpa de não participar, por
outra forma significativa, na luta contra o apartheid.
Os dois grupos que, por razões de
classificação, colocámos para o fim, já que não nos parece, como fundamental na
sua construção, a determinação histórica, confirmam só, de uma forma mais ínvia,
as considerações expostas acima.
Um primeiro grupo inclui dois contos, “Para
não ser publicado” e “Proveniente de África”. Qualquer deles se centra sobre as
perturbações criadas em elementos negros que, tendo um enquadramento cultural próprio,
são forçados a afirmarem-se numa sociedade que lhes é estranha e que tenta condicionar
o seu comportamento aos mecanismos e meandros da afirmação social típicos da
cultura ocidental.
Semelhante temática permite assim
reflectir sobre dois assuntos distintos: mostrar como o proteccionismo e o
apoio brancos a elementos negros, mesmo quando bem-intencionados, são a maior
parte das vezes, pelo menos, inibidores de uma certa autenticidade; mostrar que
as respostas às solicitações de integração feitas pela cultura ocidental podem
ser diversas, conforme a sensibilidade e a capacidade caracterial de resistência,
mas que, de qualquer modo, o resultado é sempre a destruição total ou parcial
da referida autenticidade.
Por fim, um último grupo, que é constituído
por dois contos, “O ilusionista africano” e “O noivo”, caracterizado por reflectirem
um sentido comportamental de certo modo contrário ao anterior: a fascinação
branca pelo mundo cultural negro, a revelação branca de uma compensação
afectiva inter-racial.
Deste grupo, quero salientar “O noivo”,
porque nos parece ser um dos contos em que mais se distingue a capacidade de
Nadine Gordimer em sugestionar situações. Neste conto, de facto, a autora
consegue atingir uma densidade lírica e uma ambiência telúrica que realçam bem
a situação de um engenheiro branco que, apenas rodeado pelos cantos e as vozes
dos operários negros, pelas suas sombras crescendo á luz das fogueiras, na
grande distância da noite e do deserto, não consegue conter na sua “casca”
caracterial uma necessidade de comunhão emotiva. Mas, mal esta se revela, logo
se sente obrigado a rapidamente procurar dominá-la e a culpabilizá-la também.
Não gostaria de concluir esta proposta
de análise desta obra, que nos parece com a importância suficiente para que se lamente
o enorme silêncio com que foi acolhida a sua tradução, sem salientar o
interesse que, decerto, o leitor português teria em conhecer os romances de
Nadine Gordimer, visto que, sendo obras com outras características, dariam da
escritora uma imagem bem mais “orquestral” do que uma, mesmo que boa, colectânea
de contos e “short-stories”.
Publicado no JL – Jornal de Letras, Artes e Ideias em 1981.
Título: Numa Segunda-feira, De Certeza
Autor: Nadine Gordimer
Tradutor: Adelaide Mendes de Carvalho
Editor: Edições 70
Ano: 1980
173 págs., esg.