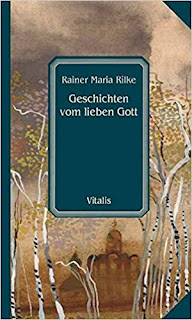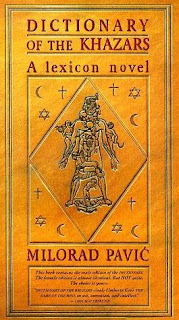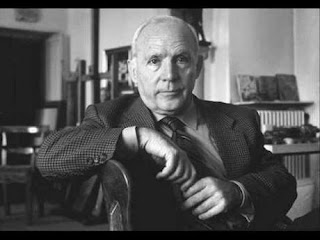A SOLAR ALEGRIA
Com a
publicação de mais este livro, Rilke passará, decerto, a ser o escritor alemão
que, de forma mais completa, foi traduzido para português: mesmo considerando
que tal se deve ao excepcional empenho do Prof. Paulo Quintela, creio que isto
exprime bem o prestígio que este poeta adquiriu no nosso país.
Histórias
do Bom Deus, que, como refere o editor, foi retirado do
volume Prose das suas obras completas, inclui um conjunto diversificado
de textos, divididos em três grupos (“Relatos de Juventude”, “Fragmentos em Prosa”
e “Histórias do Bom Deus”), de valor artístico díspar (note-se que vários são os
textos de “atelier”, isto é, que não foram inteiramente “explorados” para
eventual publicação), mas que têm o mérito de radiografarem a evolução técnica
e de problemática de um dos autores mais determinantes para a caracterização da
sensibilidade e do gosto contemporâneos.
Estes
textos revelam as indecisões de Rilke entre uma técnica narrativa de tónica
naturalista (notório em alguns contos de “Relatos de Juventude” e, em
particular, nalgumas passagens de “Dois Contos de Praga”) e um impressionismo
estilístico que o autor vai desenvolver em narrativas de outro fôlego (como,
por exemplo, em Os Cadernos de Malte Laurids Brigge) e que, neste volume, já
aparece sem equívocos, em “Histórias de Bom Deus”.
É bem
difícil, num conjunto tão heteróclito de textos, estar a fazer uma análise das
suas componentes temáticas e estéticas. Creio, no entanto, que é destacável uma
constante que, nos seus textos poéticos (principalmente no Livro de Horas e em Poesias
Novas) vai ter uma mais plena e crucial expressão.
Estou
a referir-me à concepção da Natureza em Rilke. De facto, o poeta integra, em cada
objecto ou entidade natural, um universo de significações que os transforma numa
espécie de “caixa chinesa”. Assim, todas as coisas são, antes do mais, uma “imagem
subjectiva”, apreensível de forma empática e situável na memória individual, e
correspondendo, por conseguinte, a uma ordem pessoal do universo. Essa
subjectivação da natureza, tanto mais intensa quanto maior for a sintonia sensível,
funciona, em termos poéticos, como um real efectivo com potencialidades metafóricas
e analógicas inesgotáveis.
É do
acidental, das “pequenas coisas” carregadas de sentido - tanto ou mais do que
das grandes paixões que, obviamente, são muito mais indomináveis e inacessíveis
-, que se retira o prazer estético, essa perene alegria que é o “sangue da
existência”. No entanto, uma aguda consciencialização da precaridade e da morte
(repare-se como são inúmeras as personagens que, de uma ou de outra forma,
foram tocadas pela morte) reforça essa convicção de que a beleza absoluta está
em exclusivo na natureza e na existência. É por isso que todos estes contos e
narrativas parecem nascer de um lugar de morte e se constroem como uma
deslocação para um espaço de alegria solar e de intensa apetência pela vida.
O
misticismo panteísta, que se revela em vários textos, mas que é bem explícito
em “Histórias do Bom Deus”, é a consequência lógica de toda esta concepção do
universo. A identificação Deus/Natureza é o corolário da certeza de que todo o
acidente, no limite das suas significações possíveis, é também uma manifestação
do sentido último.
Dadas
as caraterísticas destes textos, é lamentável que esta edição tenha uma composição
e paginação que os “sufoque”, ao “colá-los” uns a seguir aos outros. Parece-me de
todo errado ter-se optado por uma excessiva economia de espaço, quando, com um
ligeiro esforço de investimento e um não muito expressivo aumento do preço de
capa, se poderia apresentar estes textos de uma forma mais adequada à plena
afirmação da sua qualidade estética.
Publicado
no Expresso em 1989.
Título:
Histórias do Bom Deus e Outros Textos
Autor:
Rainer Maria Rilke
Tradutor:
Maria Gabriel Cardote
Editor:
Livros do Brasil
Ano: 1989
359
págs., esg.