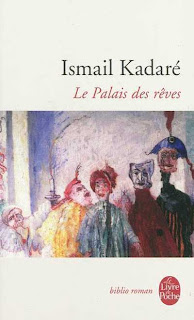A AMBIGUIDADE DE LER
Quando se faz qualquer referência a Albânia é, quase sempre, para a utilizar como paradigma político de uma ideologia que defende a independência nacional até ao isolacionismo e um igualitarismo económico que estabelece um drástico nivelamento por baixo. O exemplo foi, de forma tão sistemática, usado entre os seus detractores e defensores, que o neologismo “albanização” é hoje reconhecível na comunicação social de qualquer língua europeia.
Mas como sempre sucede nestes casos, o debate ideológico encobriu parte da realidade do povo albanês, sendo quase desconhecidas do grande público a sua história, a sua cultura e, naturalmente, a sua literatura. No entanto, se se tiver em consideração estes factores, compreende-se que a radical intransigência na defesa da independência nacional, que caracterizou os últimos anos do regime socialista albanês, não é apenas explicável por uma obsessiva opção de Estado: tem fundamentos históricos e culturais, aliás comuns a toda a região balcânica e adriática - como se pode constatar no brutal drama que hoje se vive na extinta Jugoslávia - e aos quais não é estranha a hegemonia política do Império Otomano durante vários séculos.
Também não é estranha a esta problemática da independência nacional grande parte da obra de Ismail Kadaré e a sua intrigante popularidade em toda a Europa. Este prolífico autor, com uma obra, na sua predominância, de ficção, mas também com ramificações para o ensaio e para a poesia, corporiza, num país com uma literatura escrita bem pouco expressiva, quase toda a produção literária albanesa deste século.
Ismail Kadaré é, por isso, a figura de maior prestígio internacional da Albânia. Esse prestígio deve-o, sem sombras de dúvidas, aos seus romances históricos, que atingem uma epicidade muito peculiar dentro da literatura contemporânea.
A relação que Ismail Kadaré manteve com o regime socialista albanês passou da total adesão a uma atitude de velada crítica e, por fim, de rotura. Assim, se, em certos momentos, esteve ligado a mais alta hierarquia do Estado, recebendo benesses quase impensáveis num país como a Albânia, noutros, mais recentes, foi algumas vezes acusado de expressar “uma perspectiva demasiado subjectivista da história nacional” e, por conseguinte, denunciado como “corruptor social”. Em 1990, quando já era mais do que notório o estertor do regime socialista, resolveu pedir asilo político em França.
Talvez se relacione com este percurso a sensação de ambiguidade que ressalta da leitura de O Palácio dos Sonhos, o romance agora traduzido. E, com ela, a de frustração, em particular para quem começou a conhecer este autor pelos seus romances dominantemente históricos.
O romance é uma parábola sobre o arbitrário. A acção passa-se no Imperio Otomano, mas num passado “forjado” pelo autor (séc. XIX?) e numa cidade insituável, e onde o Estado assenta a sua defesa numa instituição que pretende interpretar os sonhos dos seus cidadãos e que se torna de tal modo importante que parece controlá-lo por inteiro.
O mal-estar da personagem principal (um homem em início de carreira profissional, oriundo de uma família tradicionalmente ligada aos mais altos escalões do poder político) começa logo com a desmesura do dito “palácio”, pelos seus intermináveis e labirínticos corredores, pela massificação dos funcionários e das suas hierarquias. Em seguida, pela dimensão especulativa do seu trabalho: seleccionar e interpretar sonhos.
Aqui, O Palácio dos Sonhos centra-se noutro problema: o carácter arbitrário de qualquer hermenêutica. De facto, interpretar ou “ler” quer dizer construir uma outra realidade - uma realidade mais rarefeita, mas, talvez por isso, na aparência mais perfeita - que absorve a “outra” e se torna absoluta. Esta certeza dá à personagem principal a plena consciência da “alegitimidade” do seu trabalho; porém, isso não basta para se libertar dele: o Estado tem necessidade de prever o futuro (é esse o objectivo último de qualquer hermenêutica), e essa arte, quanto mais divinatória for, mais garantia dá de o dominar.
A visão que neste romance se apresenta do sonho é a de um código fechado, que só tem sentido dentro das suas próprias associações de elementos, e que é de todo exterior à vontade do sonhador (a “construção” de sonhos é um dos crimes mais graves contra o Estado). Interpretar os sonhos torna-se, assim, numa forma de construir uma realidade arbitrária: um Estado que conhece todos os sonhos dos seus cidadãos é um Estado que tem um saber total, porque arbitrário. E, quanto mais o Estado sabe, menos o cidadão tem capacidade de previsão, vivendo subjugado pelo terror de ser uma entidade indefinida e totalizante que estabelece o seu futuro: é isso que a personagem principal descobre, quando constata as catástrofes e as vantagens que provocaram uma sua falha - que, depois, deixou de o ser - de interpretação de um sonho.
A ambiguidade deste romance de Ismail Kadaré resulta, antes do mais, de entender que esta é a situação que qualquer Estado pretende atingir. Neste sentido, O Palácio dos Sonhos tanto pode ser encarado como um libelo acusatório contra os Estados totalitários como uma forma de os redimir. Por outro lado, escrever um romance sobre o arbitrário faz logo aparecer no horizonte da leitura um poderoso espectro: Franz Kafka. Este romance, página a página, não consegue fugir dele, e, por isso, dá ao leitor a ideia de que não passa de uma sequela, mais ou menos conseguida, da obra deste autor.
Publicado no Público em 1992.
Título: O Palácio dos Sonhos
Autor: Ismail Kadaré
Tradutor: Gemeniano Cascais Franco
Editor: Publicações Dom Quixote
Ano: 1992
181 págs., € 6,04