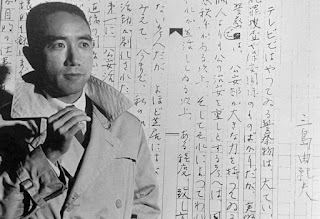A Natureza e o Poder
Um dos
aspectos fundamentais da actividade artística é o seu carácter de síncrese,
isto é,
de
reprodução de diversas componentes que, mantendo uma situação conflitual na
obra, são, também, por si, reprodutoras.
Uma
dessas componentes (que só teoricamente podemos tentar demarcar em consequência
da referida relação conflitual) é a
inevitável componente ideológica. Tão inevitável e tão importante que é muitas
vezes ela, com a intrincada componente estética, que maior peso tem na
caracterização da constante modernidade de uma obra.
A
publicação de um livro de contos de D. H. Lawrence, Amor No Feno e Outros Contos,
permite-nos realçar essa componente na obra deste autor, não só porque
os textos agora publicados são neste aspecto bem esclarecedores (para lá de
serem dos mais admiráveis que lhe conhecemos, em particular esses dois
fabulosos textos que concluem o presente livro: “O Homem Que Amava Ilhas” e “O
Homem Que Morreu”), como por consideramos que certas linhas da sua reflexão
podem ser revisitadas em termos conceptuais e revelarem-se muito interessantes
nos dias de hoje.
D. H.
Lawrence é um dos pontos de passagem dessa corrente mais subterrânea do
pensamento ocidental que sistematicamente prevalece o individual contra o social,
o afectivo e a sua racionalidade contra a racionalidade da razão, a natureza
contra o institucional/civilizacional, a ânsia de nomadismo e fuga contra a
ambição de território e poder.
Mas na
produção literária deste autor nunca tal reflexão procurou estabelecer-se como
um sistema ou construir-se numa ética, pretendendo mais ser possuída por uma
visão cósmica do que ser uma cosmovisão. Para isso, D. H. Lawrence coloca-se
numa atitude limite (e mítica) de captação da afirmação “natural” da vida ou,
se se quiser, da afirmação do Ser na Natureza.
A Natureza
Neste
sentido, para este autor, o Homem só “vive” se conseguir afirmar em si a
Natureza que nele existe. Mas esta só se afirmará se se atingir uma sintonia
perfeita entre Ser e Natureza.
Ora
tal sintonia só é total no acto de amor. Só com ele se regressa a esse Paraíso
perdido. Porque o Homem sofreu um corte original que afastou os seus
complementos (homem/mulher) e fez aparecer um outro continente compensatório
constituído pela Sociedade/Razão. O social/racional é a
Terra para onde o Homem, fragmentado, foi “desterrado”.
Logo,
para D. H. Lawrence, esse continente compensatório só deve ser encarado como um
lugar de passagem que facilite o “regresso” ao acto de amor. Encarado sem esse
objectivo, como um valor em si, leva ao estiolamento da afirmação da Natureza,
sendo, por isso, mortal.
A
Natureza é, portanto, a vida (“como um cão molhado enroscado na sua depressão, ou uma cobra que não
está desperta nem a dormir”). E é, por isso, atemporal: isto é, está
contida nela o tempo, vivendo aquela da morte que este produz (“um mundo escuro infinito em que viviam as
almas todas de todas as noites passadas”). Parte desta consciência o verdadeiro
sentido e dimensão do (nosso) viver: sermos um grão de areia face a infinitude
da Natureza, estando, ao mesmo tempo, em nós toda a vida, porque única.
Mas
tal consciência só se tem em lugares privilegiados, onde a interferência do
social e do civilizacional seja mínima, como, no, exemplo do conto “O Homem Que
Amava Ilhas”, uma ilha deserta:”(...) quando
nos isolamos numa ilha pequena no mar do espaço e o momento começa a inchar e a
expandir-se em grandes círculos, vai-se a terra sólida e a nossa alma escura,
nua, escorregadia, acha-se no mundo intemporal, onde os carros da chamada morte
se precipitam pelas velhas ruas dos séculos e as almas se apinham nos caminhos
a que nós, no momento, chamamos anos passados. As almas dos mortos estão vivas,
de novo, e pulsam activamente em redor de nós. Estamos perdidos no outro
infinito.”
A
cidade, o lugar das “polainas brancas”, da paisagem concentrada do
civilizacional e do institucional, transmite, pelo contrário, um sentimento de
competição, uma ânsia de poder e uma rede de “obrigação” que fazem com que o
temor da morte torne opaca a nossa “alma” à presença
da Natureza e à infinitude do tempo.
Pode-se,
por isso, vincando os traços, dizer que, para D. H. Lawrence, o Homem não passa
de uma “concha” que se alimenta da energia vinda do sol, das árvores, da terra,
sinais de uma “fala” da Natureza onde a “voz” principal é, como
vimos, o amor (a lenta ressurreição da personagem principal do conto “O Homem
Que Morreu” caracteriza bem a importância vital destes elementos). Mas também pode
tornar-se uma “concha” oca, espécie de cadáver móbil, se, por razões
caracteriais ou institucionais, se “ensurdecer” a essas “vozes” (é o caso
de Robert do conto “A Senhora Formosa”, cujo
comportamento tímido e fraco não é mais do que as “sobras” resultantes da
voracidade da mãe e, indirectamente, da instituição familiar).
A
presença do institucional e da sua dimensão diacrónica, o civilizacional, podem
tornar-se, portanto, perniciosas para a revelação do amor. Porque se o carácter
fusional do amor não permite que se reconheça a independência dos seus
complementos, a imposição de relações de dependência e de poder, por parte do institucional,
só institui a morte.
O amor
é assim fundamental como reafirmação da Natureza, da vida perante a morte. E a
energia, que ele transmite, transforma-nos numa bandeira contra a relatividade
desse continente compensatório do social/racional, do
institucional/civilizacional, conscientes que ficamos da possibilidade de dele
nos libertarmos.
No entanto,
se é este o posicionamento do social e do institucional na reflexão de D. H.
Lawrence, não se pode dizer que ele seja puramente anti-social: as situações
demissionárias face ao social são acusadas de fraqueza, de impotência, de
cobardia (repare-se, por exemplo, na caracterização do marido de Lydia no conto
“O Amor No Feno”), e também, a seu modo, consideradas como uma dissolução
mortal na Natureza.
Portanto,
a presença do social é necessária como uma vertente fundamental para o equilíbrio
do Homem, como uma espécie de “vida menor”
(para aplicar os termos da reflexão da personagem principal de “O Homem Que Morreu”),
fornecedora dos elementos básicos materiais, alimentares e sexuais, e quadro
limite onde decorre a existência da maioria dos homens. É esta que serve de sustentáculo
da “vida maior”, somente alcançada
por aqueles que tomaram consciência do lugar do Ser na Natureza.
O Poder
Para
D. H. Lawrence, o amor define-se numa permuta em pé de
igualdade. A existência de qualquer desequilíbrio nessa relação de dar/receber
cria uma hierarquia nefasta, originadora de excessos fatais.
Dar
mais do que receber é assumir um lugar de sacrifício,
cristão, produto de um puro acto de vontade, descarnado. Daí que haja em D. H. Lawrence
uma clara rejeição de qualquer atitude de militância ou missão social. Um dos
fios condutores do belíssimo conto “O Homem Que Morreu” é este mesmo: a lenta
libertação pela morte de um homem que, embrenhado numa missão de salvação, só tinha
chamado a si a traição, fazendo com que os outros amassem como cadáveres o seu cadáver:
“De repente, percebeu: pedi a todos que
me servissem com o cadáver do seu amor. E, no fim, ofereci-lhes apenas o cadáver
do meu amor. Este é o meu corpo - tomai
e comei - o meu corpo morto…(…)” “Afinal”, pensou, “quis que
eles amassem com os corpos mortos. Se eu tivesse beijado Judas com amor vivo,
talvez ele nunca me tivesse beijado com a morte. Talvez ele me amasse na carne
e eu quis que me amasse desprezando a carne, com o cadáver do amor...”
Receber
mais do que dar é ocupar um lugar de poder, que possibilita “alimentar-se” com
a vida dos outros: mas também esse “alimento” se revelará “terrestre”, ilusório,
conduzindo a um inevitável envenenamento de quem o recebe (é este
um dos sentidos do conto “A Senhora Formosa” e também o
traço fundamental na caracterização de Madalena de “O Homem que Morreu”: “A nuvem da necessidade estava nela: de ser
salva da velha Eva caprichosa, que abraçara tantos homens e recebera mais do
que dera. Agora, abatera-se sobre ela a outra perdição. Queria dar sem receber.
E também isso é duro e cruel para o corpo quente.”)
É com
base nesta reflexão sobre o carácter pernicioso de um desequilíbrio no amor que
D. H. Lawrence, principalmente no conto “O Homem Que Amava Ilhas”, procura
caracterizar o desejo de poder face à Natureza
e aos outros e o comportamento que ele determina.
Porque
o pensamento de poder pretende-se, antes do mais, amoroso: ama o que procura
dominar e por amor o domina. Só que este “amor” é consequência de uma fraqueza
caracterial, em que se anseia mais por se ser reconhecido do que em
(re)conhecer: o poder busca sempre no rosto dos outros o resultado da sua acção
e, por fim, a sua própria imagem. É esta a
razão por que o desejo de poder cria a necessidade de um território, isto é, de
lugares e de outros como lugares a habitar (ou, como diz D. H. Lawrence, “para podermos ter a sensação de que esta
cheia da nossa personalidade”).
Pode dizer-se,
por isso, que este “amor” é narcísico, já que, partindo
de um lugar de dominação, se torna um “amor” de posse que procura corporizar
nele o outro.
Por
outro lado, o poder pretende afirmar-se numa praxis de perfeição que dome a
Natureza a uma imagem de Paraíso. Mas, como imagem reflexa de uma
subjectividade, o resultado é a tentativa de reordenamento da Natureza segundo
a vontade de um Senhor inconsciente da infinitude dela.
Assim,
o poder é dominado por uma vontade utópica, por uma vertigem totalitária: a
construção de um Paraíso. E o objectivo dessa construção é o reconhecimento por
parte da Natureza e dos outros de que esse construtor é o Senhor, não o Senhor
A ou B, isto é alguém que necessite de uma nomeação circunstanciada (“Ele era o Senhor. (...) Assim, o ilhéu já não era o Sr. Tal-e-Tal”).
O Senhor passa a ser a personificação da Criação (“o poeta”) e da Ordem que aquela instaura: como tal é “a fonte da sabedoria sobre tudo”.
Por
isso, é também o lugar do Pai: o Senhor nunca pertence à nossa condição,
descendo somente a ela, complacente e terno, como o criador se debruça sobre
aquilo que cria. Mas essa condição de excepção é também motivo da sua
fragilidade, fazendo dele um eterno solitário: é-lhe impossível amar os homens
e a Natureza como homem, isto é, como ser criado. Os outros
encaram-no então com ironia, conscientes da desmesura e da insensatez do seu
projecto.
A dessintonia
com a Natureza e a inconsciência da sua infinitude criaram assim no poder a
necessidade de lhe impor um modelo. Mas a Natureza irá rebelar-se contra essa
pretensão, destruindo-lhe o querer, quebrando a sua vontade e absorvendo-o. E
os homens, a quem o poder bondosamente oferecia o Paraíso, vão revoltar-se também
contra ele: ninguém cabe no lugar que outro criou para ele.
Nasce
também aqui, para D. H. Lawrence, a sociabilidade: do conflito entre os desejos
de Paraíso que cada um traz dentro de si. E a história da civilização é a
narrativa do sistemático desequilíbrio produzido por esse conflito.
São
estas, em linhas muito genéricas, algumas das pontas da reflexão de D. H.
Lawrence que atravessa os textos de Amor No Feno e Outros Contos. Mas,
como já referimos, a sua própria construção narrativa é tecida por uma malha de
situações, metáforas e símbolos que têm um valor conceptual especifico, difícil
de autonomizar do seu contexto como um eventual sistema. E é dessa tessitura
cerrada e elíptica que brota a intensidade poética e o fascínio mágico que a elas
nos prendem.
Publicado
no JL- Jornal de Letras, Artes e Ideias
em 1982.
Título:
Amor No Feno e Outros Contos
Autor.
D. H. Lawrence
Tradutor:
Maria Teresa Guerreiro
Editor:
Assírio & Alvim
Ano: 1982
220
págs., € 9,45